Reportagem confere de perto o cotidiano de privações da população e mostra que, em sua maioria, os venezuelanos torcem pela queda da ditadura de Maduro.

Em um giro pelas congestionadas ruas no centro de Caracas, avista-se uma população que tenta transparecer normalidade cultivando hábitos conhecidos: reunir-se em torno de uma mesa de bar para aquela cerveja no fim do expediente, traçar uma arepa, a panqueca à base de farinha de milho que nenhum bom local dispensa e, dada a época do ano, tirar fotos diante da decoração natalina — meio minguada nestes tempos difíceis, aliás. Na verdade, mesmo para os parâmetros da Venezuela, a toda hora sacudida por uma nova crise que vem à baila como “a maior da história”, sendo sempre superada pela seguinte, esta pela qual hoje passa o país faz a tensão disparar pelo ineditismo de seus ingredientes e a incerteza sobre o que vai acontecer nas próximas semanas, dias, horas. Embora as pessoas evitem expressar medo, a pressão dos Estados Unidos sobre a nação governada pelo ditador Nicolás Maduro nunca foi tão acirrada e escala desde agosto, quando o presidente Donald Trump passou a despachar para as águas do Caribe uma parafernália militar que inclui o porta-aviões Gerald R. Ford, o maior do mundo. E avisou: uma ofensiva deve ocorrer “em breve” (até a última quinta-feira, 18, a promessa ainda não havia sido cumprida). O objetivo é derrubar Maduro, numa suposta cruzada contra o tráfico de drogas que desaguaria em solo americano.
A reportagem de VEJA percorreu as ruas de Caracas nos últimos dias e, por lá, ninguém ousa dar um pio sobre o assunto em voz alta, tamanho o receio da reação dos guardas, que a tudo observam — daí o depoimento de pessoas como o mecânico J.S., 43 anos, ser concedido aos sussurros e com a condição de não revelar o nome, como outros ouvidos pela jornalista Mariana Gómez. “A ansiedade é grande. Na dúvida, começamos a armazenar a pouca comida que temos”, relatou ele a VEJA. Até não muito tempo atrás, os observadores da região apostavam que Trump poderia estar fazendo do translúcido mar caribenho o palco de um teatro para demonstrar força e acuar Maduro, o que resultaria em uma saída negociada que, quem sabe, se resolveria até com um ou dois telefonemas. Mas essas ligações não deram em nada, e o conjunto de ações capitaneadas pela Casa Branca tem emitido claros sinais de que operações militares estão sendo concretamente aventadas — e que os Estados Unidos só vão arredar pé quando o atual ocupante do Palácio de Miraflores deixar a cadeira que há quase treze anos mantém à base de um populismo à esquerda e do atropelo à democracia.
Após mandar apreender um petroleiro que estaria zarpando para abastecer Cuba e Irã, Trump ordenou, na terça-feira, 16, um bloqueio a todas as embarcações do gênero que, mesmo sob sanções, entram e saem do país. Assim, quer sufocar Maduro pela via econômica, uma vez que a Venezuela é dona da maior reserva de petróleo do planeta, matéria-prima de uma indústria que, embora dilapidada, ainda move o PIB. Trump também rotulou a nação caribenha de “organização terrorista estrangeira”. Esse é apenas o mais recente capítulo de uma trama que há meses se desenrola naquelas águas, onde os americanos têm feito ataques em série a navios suspeitos de transportar entorpecentes rumo ao norte, acusação sem provas, ainda que a rota internacional das drogas seja bem conhecida. A iniciativa, levada a cabo sem a obrigatória autorização do Congresso e vista por organizações diversas como afronta ao direito internacional, atingiu dezenas de barcos matando todos a bordo.
Os cálculos à mesa do Salão Oval, evidentemente, pesam o custo-benefício de uma invasão, que encontra resistência mesmo em meio à inflamada base de apoio a Trump, a qual ele prometeu não enredar o país em dispendiosas campanhas militares de resultado duvidoso. Do lado da Venezuela, como é habitual em regimes autoritários, a resposta do governo à pressão nas alturas tem vindo na forma de um aperto nas engrenagens da máquina de repressão, que ficou ainda mais azeitada depois que, em 2024, Maduro se recusou a apresentar as atas das eleições presidenciais e, contra o que indicava todas as pesquisas, autoproclamou-se vencedor para mais um mandato de seis anos, resultado não reconhecido por uma banda expressiva das democracias mundo afora, incluindo aí o Brasil.
Além da presença maciça da Guarda Nacional Bolivariana em locais públicos, agora são frequentes as patrulhas e abordagens da Sebin (a polícia política) e do Cicpc (órgão de investigação penal). “Eles revistam seu celular e, se encontram menções a Maduro e palavras como ‘protesto’ e ‘piquete’, te levam preso”, explica o designer gráfico P.S., 27 anos, que agora apaga mensagens antes de sair de casa. Ao afiar as garras, o regime dá o seu recado: nada de traidores apoiando os “ianques imperialistas” — como Maduro costuma se referir aos americanos.
Nas rodas de amigos, a imensa maioria dos venezuelanos não esconde saber o que quer: a queda de Maduro. Segundo uma pesquisa AtlasIntel, 62% o culpam pela crise humanitária que os assola e 55% dão nome aos bois, afirmando viver em uma ditadura. Sobre os caminhos para apeá-lo do poder as opiniões se dividem, mas surpreende o tanto de gente que aprova a intervenção militar americana, 34%, enquanto 29% preferem a trilha diplomática. Os nomes de María Corina Machado, líder da oposição e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, e de Edmundo González, que a substituiu no pleito do qual ela foi varrida e, de acordo com aferições independentes, teria sido eleito, são vistos positivamente por mais de 40% da população — Maduro não passa de 15% no mesmo medidor. “Maduro vive um momento ímpar de rejeição. É inevitável que perceba que seu tempo acabou”, afirmou a VEJA Edmundo González, que, exilado em Madri, se diz pronto para voltar e exercer o mandato (leia a entrevista na pág. 53).
Quem não opta pela saída do aeroporto é perseguido e não raro preso. De acordo com o Provea, um grupo de direitos humanos, 54 pessoas foram recém-detidas por manifestarem apoio a María Corina, que, não custa lembrar, fez um périplo com direito a viagem de barco e avião para deixar a Venezuela em segurança e receber seu Nobel da Paz em Oslo, mas não chegou a tempo. Ao todo, estima-se em 900 os presos políticos. Detido na segunda-feira 15, Melquiades Pulido, 71 anos, coordenador do partido de Corina, o Vente, foi pego por policiais no meio da rua. “Ele tem Parkinson e depende de remédios”, conta sua irmã, a advogada Kisbeth Pulido, que não o vê desde 2023, quando ele passou a atuar na clandestinidade. “Não há estado de direito nem justiça na Venezuela”, desabafa.
A principal motivação do governo Trump para encarar o xadrez geopolítico de tão elevada complexidade não é de cunho ideológico, embora lhe caia bem se livrar de um líder de esquerda difícil de controlar e ainda dar mostras de poder aos países vizinhos. Mas o que está mesmo em jogo para os Estados Unidos é fincar os pés na América Latina, há tempos relegada a segundo plano, inclusive pelo próprio Trump no primeiro mandato. Enquanto os Estados Unidos pisaram no freio, China e Rússia avançaram, alastrando seu raio de atuação e faturando com atividades econômicas variadas na região — o maior comprador de longe do petróleo venezuelano, sob sanções americanas, são os chineses. Agora, a toada da Casa Branca é outra, conforme ficou explícito em um documento divulgado uns dias atrás. Ele retoma o espírito da doutrina estabelecida no século XIX pelo então presidente James Monroe: a ideia é que as nações do continente estejam todas na zona de influência americana. Não por acaso, ao anunciar o bloqueio aos petroleiros, Trump soltou, sem grandes esclarecimentos, que a Venezuela “está roubando de nós petróleo e terras” — os quais, não há dúvida, ele quer nas mãos de companhias americanas. “Os Estados Unidos farão o necessário para proteger seus interesses, que miram a aquisição de ativos estratégicos”, analisa Ivan Briscoe, diretor do Programa para a América Latina do Crisis Group.
Apelidada de “Doutrina Donroe” (uma adaptação à era de Donald Trump) e encampada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, a nova e mais aguerrida postura prevaleceu sobre a tentativa de uma costura diplomática em que Maduro permaneceria no poder, com promessa de saída em um futuro, e em troca abriria a fronteira para empresas americanas explorarem riquezas naturais à vontade — terras raras e ouro, além de petróleo, claro. Antes senador pela Flórida, estado com vasta presença de imigrantes latinos que se tornou reduto republicano, Rubio mobilizou sua base para pressionar o próprio governo, sinalizando que não apoiaria um arranjo que não contemplasse a derrubada do comandante da Venezuela. Está embalado por dois propósitos: manter e atrair o relevante eleitorado hispânico, que anda revoando das fileiras trumpistas por desaprovar o endurecimento das políticas de imigração, e dar uma punhalada no regime comunista de Cuba, que hoje depende do petróleo venezuelano vendido a preços de pai para filho para sobreviver. “Prevaleceu na Casa Branca a visão linha-dura de Rubio, que vê na ação contra Caracas a chance de resolver vários problemas ao mesmo tempo”, diz Carolina Pedroso, especialista em relações internacionais da Unifesp.
Há tempos Maduro vem balançando em meio a uma inflação que fez o bolívar virar pó (deve chegar a 270% neste ano) e ao avanço da pobreza, que atinge hoje 73% da população. São dados que expressam anos de uma política de colorido estatizante e de desprezo ao mercado que encontrou o fundo do poço após as sanções americanas. Herdeiro de Hugo Chávez, o populista que governou o país por catorze anos e capitaneou a Revolução Bolivariana, tendo algum êxito no princípio com programas de cunho assistencialista que acabaram não se sustentando no longo prazo, Maduro pegou o bastão após a morte do chefe, em 2013. Ele permanece, apesar de tudo, no Miraflores por ter conseguido engolir as instituições uma a uma, do Legislativo ao Judiciário, e de ter do outro lado do ringue uma oposição desarticulada, que, quando resolve se mexer, é perseguida como foi María Corina, forçada a sair do último páreo presidencial por supostas irregularidades administrativas no período de deputada, mais de uma década atrás.
Outro ponto que favorece Maduro é contar com o apoio de militares, os quais estrategicamente acomodou em cargos de comando em toda a cadeia produtiva, inclusive no setor petrolífero, e de uma fatia de empresários próximos, a quem é dado o direito de explorar bons negócios — os “boliburgueses”, burgueses da era bolivariana. Integrante dessa ala, Tito López, presidente da associação das indústrias, não quer saber de conflito, o que naturalmente abalaria as esteiras fabris. “Creio que tudo vai terminar com uma negociação em que a paz prevaleça”, diz, sem mais detalhes. O cerco americano entrou mesmo no rol das preocupações locais, mas o que ainda se sobrepõe são as asperezas do dia a dia. “O que mais me afeta é a falta de segurança que meus filhos adolescentes enfrentam na rua”, fala a cabeleireira D.E., 47 anos, de olho nos altos índices de vítimas da criminalidade entre jovens. Em razão da subida de temperatura, a disparada do dólar, correntemente usado pelos venezuelanos, também virou dor de cabeça, por corroer o já reduzido poder de compra das famílias. “Às vezes não consigo comprar nem um saco de farinha”, queixa-se a aposentada R.L., 70 anos. São faces de um drama humanitário que já provocou a debandada de mais de 7,7 milhões de pessoas.
O governo brasileiro acompanha o passo a passo desse enredo que a cada dia se renova. Duas semanas atrás, o presidente Lula, que sempre demonstrou simpatia ao ditador por alinhamento ideológico e fez nos últimos anos vários gestos diplomáticos em defesa dele, falou com Maduro ao telefone e se prontificou a mediar a pendenga, rompendo um silêncio sobre qualquer assunto relacionado à Venezuela que mantinha desde a controversa eleição presidencial, a qual o Brasil custou a criticar. A mesma oferta foi feita a Trump, mas até agora nenhum lado se pronunciou. O Planalto teme que um acirramento da crise humanitária na nação vizinha resulte em venezuelanos em massa batendo à porta da fronteira de Roraima, como já aconteceu. Mas o que mais preocupa mesmo Lula e outros líderes da América do Sul são os indícios de que os Estados Unidos podem invadir a Venezuela e depor Maduro pela força, um ato inédito que abre um precedente perigoso e é condenado pelas leis internacionais. “Seria um grande teste para a ordem jurídica global, cujos instrumentos para resolver os conflitos modernos pela via pacífica se tornam cada vez mais obsoletos”, avalia Maristela Basso, especialista em direito internacional da Universidade de São Paulo (USP). Encurralados no olho do furacão, os venezuelanos aguardam com um misto de temor e esperança os próximos capítulos dessa nova tormenta.










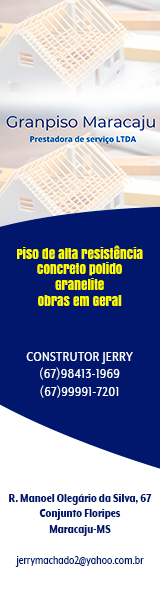
Olá, deixe seu comentário!Logar-se!